Caro(a) cursista!
Você já parou para pensar o que faz o nosso país ser o que é? O que nos diferencia, por exemplo, dos(as) argentinos(as) ou uruguaios(as), países que nos fazem fronteira? A língua? A cultura? A história? E dos(as) portugueses(as), de quem herdamos muito do que somos hoje? E a despeito de termos nascido no Brasil e sermos brasileiros(as), nossas diferenças culturais, locais e regionais não falariam mais alto?
Sugerimos começarmos nossas reflexões sobre identidades a partir de uma perspectiva mais ampla, por exemplo, a “identidade nacional”.
A rigor, não há uma definição unívoca, unânime e universalmente aceita para o termo “nação”. Embora saibamos que a humanidade subdivide-se em diversas culturas, que se diferenciam por línguas, costumes, religiões, e que comportam unidades políticas, cujos grupos comprometem-se com a ajuda mútua e submetem-se a estruturas de autoridade, nem por isso podemos identificar, com nitidez absoluta, suas fronteiras culturais ou políticas – as tradições culturais, como linguagem, devoção religiosa ou costume popular, frequentemente se entrecruzam; as jurisdições políticas podem sobrepor-se umas às outras; e, de maneira geral, as fronteiras políticas e culturais raramente são convergentes.
De acordo com o historiador e teórico político Ernest Gellner (1925-1995), num verbete contido no Dicionário do Pensamento Social do Século XX (1996), “é impossível aplicar o termo ‘nação’ a todas as unidades que são cultural ou politicamente caracterizáveis”, já que isso implicaria tanto um número excessivo de nações como no fato de que vários indivíduos teriam múltiplas identidades nacionais (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 507). A pergunta sobre como um grupo que compartilha uma identidade linguística, cultural, religiosa, étnica etc. poderia constituir-se numa nação, ou em que medida uma unidade política pode representar uma ou mais identidades culturais, a rigor, só teria sentido a partir de um processo histórico específico; mais precisamente, com o advento da modernidade e do Estado-nação. Isto é, a sociedade urbana e industrial, palco da mobilidade social e de um Estado organizado, ao substituir comunidades locais, tribais, baseadas em grupos de parentesco ou desprovidas de uma autoridade central, construiu igualmente a ideia de nação como aspecto central para garantir a legitimidade diante dessas transformações na estrutura social.
Assim, foi na virada do século XVIII para o XIX que o termo “nação” passou a ter uma importância central na vida de milhões de indivíduos, a ponto de legitimar rebeliões em massa, processos de independência política, domínio de outros povos, formas de resistência a outros grupos e assim por diante.
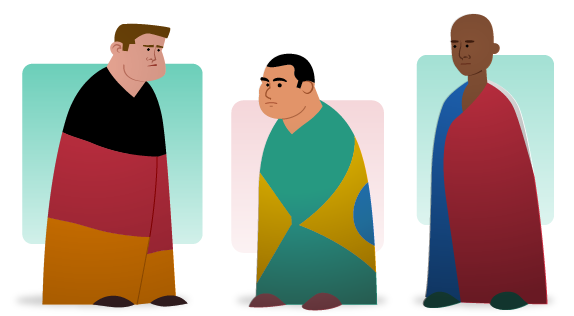
Assim, antes da invenção histórica da nação como fruto do processo de unificação política e do advento do Estado-nação, os termos políticos empregados eram “povo” e “pátria”. Esta última era derivada do vocábulo latino "pater", pai, entendido não como genitor dos filhos, mas como “senhor”, “chefe” ou aquele que possui a propriedade absoluta da terra e do que nela existe, isto é, do patrimonium (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 15). A partir do século XVIII, com as revoluções norte-americana e francesa, “pátria” passou a significar o “território cujo senhor é o povo organizado sob a forma de Estado independente”, e este vocábulo esteve presente também nas revoltas que antecederam o processo de independência no Brasil, quando se falava em “pátria mineira”, “pátria pernambucana”, e não em uma “pátria brasileira” (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 16).
Todavia, o significado etimológico de palavras como nação, nacionalidade, nacionalismo, em si mesmas, nos diz muito pouco acerca dos usos políticos, das representações com que foram usadas, em suma, dos processos históricos que as tornaram uma referência ideológica central no mundo moderno.
O desafio em compreender esses processos foi encarado por historiadores(as) e cientistas sociais ao longo do século XX.
Para o historiador Eric Hobsbawn (1917-2012), o elemento de “artefato, da invenção e da engenharia social que entra na formação das nações” é de fundamental importância. A visão da nação como algo “natural”, “divino”, ou como “destino político” de um povo, presente em muitos discursos nacionalistas, não passa de um “mito”. Na verdade, o discurso nacionalista do Estado é o que cria as possibilidades para se pensar a nação, e não o oposto. (HOBSBAWM, 1990, p. 19). Já para o cientista social contemporâneo Benedict Anderson, tanto a condição nacional quanto o nacionalismo são entendidos enquanto “produtos culturais específicos” do final do século XVIII; mais precisamente, o autor propõe definir nação, antropologicamente, como sendo uma “comunidade política imaginada”: ela é imaginada, “porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32).