Caro(a) cursista, o que um dos principais teóricos da Cibercultura, Pierre Lévy nos alerta, é que as atuais tecnologias de informação e comunicação, como de resto, quaisquer técnicas, não são nem boas nem más em si mesmas, e tampouco neutras. Dependem de contextos, usos e pontos de vista. E nesse sentido, o raciocínio humano, o discernimento e a criticidade são as armas de que dispomos para não nos enredarmos em novas formas de barbárie, feitas em nome das novas tecnologias. Paradoxalmente, a própria democratização e popularização da internet, a construção de políticas públicas que valorizem sua transparência e garantam aos(às) indivíduos a autonomia e o discernimento, a ampliação das condições de acesso à rede, dentre outros fatores, estão entre as iniciativas que contribuem para a própria construção da cidadania.
Também aqui a obra de Pierre Lévy nos permite refletir, sociologicamente, sobre as mudanças qualitativas nos processos de aprendizagem protagonizadas pela Cibercultura. Dentre as principais transformações, a aprendizagem cooperativa é uma das direções mais promissoras no sentido de se estabelecer novos paradigmas de aquisição de conhecimentos e constituição dos saberes, pressupondo também uma certa mutualidade: “os professores aprendem ao mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes ‘disciplinares’ como suas competências pedagógicas (a formação contínua dos professores é uma das aplicações mais evidentes dos métodos de aprendizagem aberta e à distância)” (LÉVY, 1999, p. 171). O autor chega a propor que a atividade docente estaria mais relacionada ao “acompanhamento e gestão das aprendizagens” do que na difusão dos conhecimentos: “o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc” (Idem).

Podemos interpretar a Cibercultura de outras maneiras, mediante outras perspectivas. Podemos inclusive apontar limites à abordagem que Pierre Lévy – e tantos outros – fazem em relação à abrangência destas transformações. Evidentemente, a controvérsia é parte da disciplina sociológica. Contudo, admitir que vivemos numa era de profundas transformações, com impactos econômicos, sociais, políticos e educacionais ainda por serem enfrentados, é o começo de um caminho reflexivo fundamental.
E um dos pontos mais interessantes que a Cibercultura ou a Cultura Digital trouxeram – e que vieram para ficar – tem a ver com a horizontalidade, a aprendizagem cooperativa ou mutualidade como novas formas de construção de conhecimento. De acordo com o pesquisador Nelson de Luca Pretto, o estabelecimento de redes horizontais é de “fundamental importância para a adoção de outra perspectiva comunicacional, uma vez que, ao conectarmos uma nova região na rede, ambas se transformam, a região e a rede.” (PRETTO, 2011, p. 100).
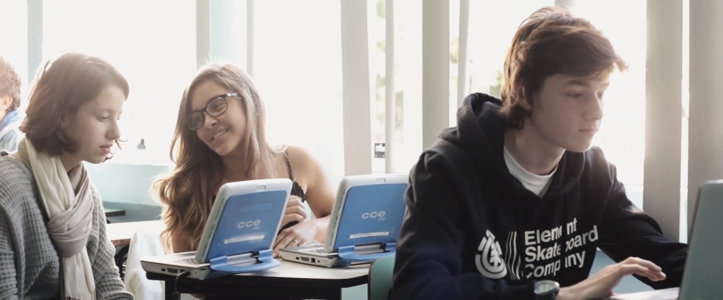
Em outras palavras, a horizontalidade das redes, ao permitirem processos colaborativos de investigação (podemos citar como exemplos o Projeto Genoma, o movimento pelo Software Livre, a Wikipédia, dentre muitos outros), contribuem com a construção de outras práticas sociais: o digital reconfigura as “condições básicas do discurso e da recepção, uma vez que a internet é “espaço social”, e não simplesmente um objeto. “Dessa forma”, continua o autor, “compreender a internet e, junto com ela, todas as demais tecnologias que se articulam num processo de convergência tecnológica, significa pensá-las para além de meras ferramentas auxiliares do processo de conhecimento e da educação” (PRETTO, 2011, p. 103).
Em outras palavras, a incorporação das TDIC e da Cultura Digital na Educação permite repensarmos a própria questão das “linguagens”, começando por compreender as formas de expressão e construção de novas formas de linguagem, sobretudo por parte dos(as) jovens: ao se apropriarem das tecnologias, estes constroem e alteram cotidianamente produções linguísticas por meio de imagens, símbolos, ícones. Em suma, criam novas linguagens visuais que, por sua vez, demandam e também podem ser capazes de fornecer explicações visuais para fenômenos complexos, teorias abstratas, argumentos científicos.

É essa a juventude, portanto, que chega à escola. Uma escola que precisa, por isso, repensar-se diante das enormes transformações por que vêm passando as sociedades. Que deve ter a capacidade de compreender e refletir criticamente – diríamos também, sociologicamente – sobre os fenômenos em curso e, para tanto, pode se pensar não tanto em termos de um currículo baseado numa lógica estritamente vertical e linear, centrada na ordem, mas numa construção “labiríntica”, como um espaço para “possibilidades de caminhos diferenciados, onde o se perder é valorizado, porque possibilita uma enorme diversidade de caminhos e soluções; onde chegar a um lugar é importante, claro, mas sem que isso imponha a perda da riqueza do caminhar, do se perder e do experimentar as inúmeras possibilidades trazidas pelo próprio caminhar (e agora, navegar). Espaço, portanto, da criação e da experimentação” (PRETTO, 2011, p. 109).